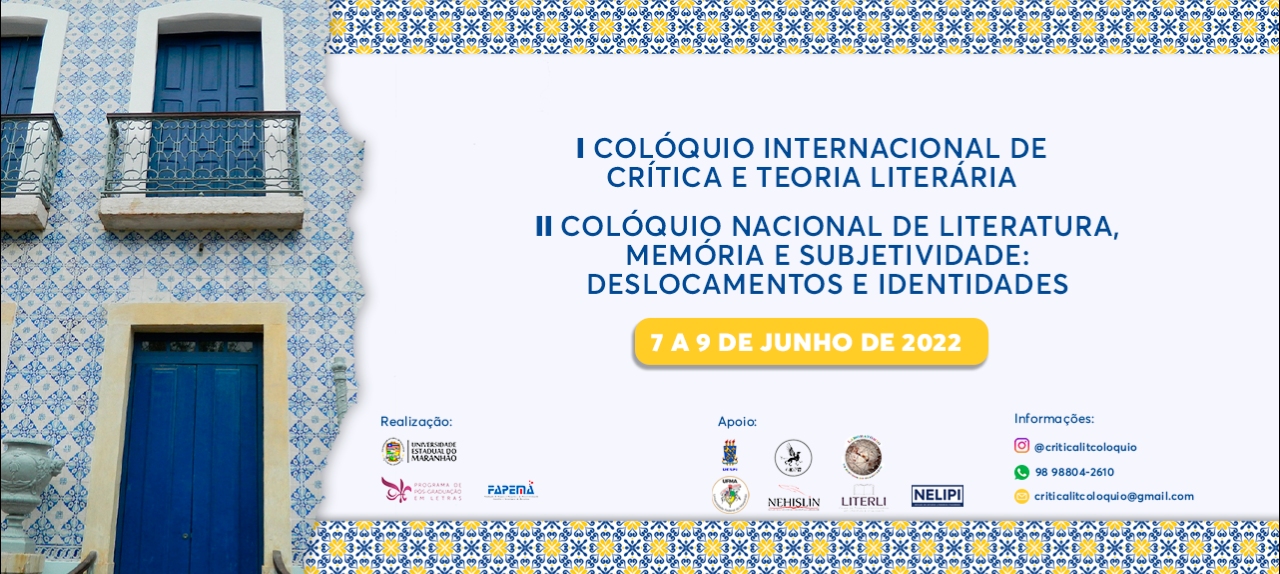
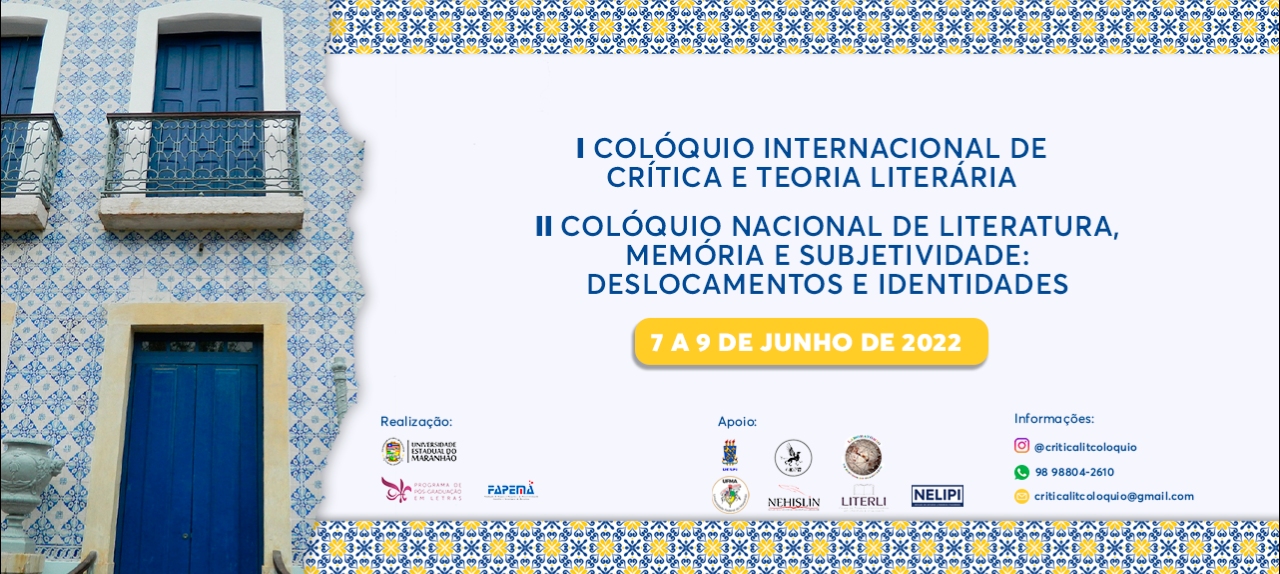
LISTAS DOS SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
SIMPÓSIO 1: História e Literatura africana em língua portuguesa oficial. Proponente: Prof. Dr. José Henrique de Paula Borralho (UEMA); Profa. Dra. Vanessa Neves Riambau Pinheiro (UFPB); Profa. Dra. Waleska Rodrigues de Matos Oliveira Martins (UFRB).
SIMPÓSIO 2: Estudos de ficção contemporânea e ficção de si: desdobramentos e deslocamentos. Proponente: Profa. Dra. Andrea Tereza Martins Lobato (UEMA); Profa. Dra. Maria Iranilde Almeida Costa (UEMA);
SIMPÓSIO 3: Literatura em tempos digitais: tendências e tensões. Proponente: Prof. Dr. Emanoel César Pires Dias (UEMA); Prof. Dr. Andriolli de Brites da Costa (UNEB).
SIMPÓSIO 4: Cidade, memória e patrimônio na literatura moderna e contemporânea. Proponentes: Profa. Dra. Silvana Maria Pantoja dos Santos (UEMA/UESPI/CNPq); Profa. Dra. Elisabete da Silva Barbosa (UESBA).
SIMPÓSIO 5: Memória e construção identitária na literatura Maranhense. Proponente: Profa. Dra. Solange Santana Guimarães Morais (UEMA); Profa. Dra. Lucélia de Sousa Almeida (UFMA)
SIMPÓSIO 6: Literatura, insólito ficcional e imaginário – Prof. Dr. Josenildo Campos Brussio (UFMA/CNPq); Prof. Dr. Carlos Ribeiro Caldas Filho (PUC Minas).
SIMPÓSIO 7: Literatura e Filosofia: diálogos multifacetados – viagem, memória e subjetividade. Proponentes: Profa. Dra. Maria Aracy Bonfim (UFMA); Profa. Dra. Cacilda Bonfim (IFMA).
SIMPÓSIO 8: MEMÓRIA, FEMINISMO(S) E A ESCRITA DE AUTORIA FEMININA
Profa. Dra.Algemira de Macedo Mendes – UEMA/UESPI/CNPQ
Profa.Dra. Alexandra Santos Pinheiro-UFGD/CNPQ
Profa. Dra.Keyle Sâmara Ferreira de Souza – SEDUC-CE
SIMPÓSIO 9: Literatura Afro-Brasileira: Identidade, Memória e Resistência do Século 19 Até a Contemporaneidade:
Profa. Drª. Claudia Letícia Gonçalves Moraes – UFMA/FAPEMA
Prof. Me. Rayron Lennon Costa Sousa – UFMA/UFPI/FAPEMA
SIMPÓSIO 10: Literatura e Memória: subjetividade e resistência das maiorias minorizadas:
Prof. Dr. Rubenil da Silva Oliveira (UFMA)
Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes de Almeida (UNILA)
Simpósio 01: História e Literatura africana em língua portuguesa oficial. Proponentes: Prof. Dr. José Henrique de Paula Borralho (UEMA); Profª Drª Vanessa Neves Riambau Pinheiro (UFPB); Profª Drª Waleska Rodrigues de Matos Oliveira Martins (UFRB).
A história das literaturas africanas de língua portuguesa encontra-se, em geral, imbricada na e pela história do colonialismo português em África, em particular, na trajetória de duas instituições erigidas pelo Estado Novo salazarista: A Casa dos Estudantes do Império e a Prisão do Tarrafal. Tal afirmação não é, de forma alguma, temerária, pois, ao se analisar a trajetória literária de alguns países africanos de língua oficial portuguesa, em dado momento, depara-se com uma literatura que cumpriu uma função, no bojo do colonialismo, que extrapolou o campo do puramente estético para se constituir em trincheiras contra o avanço do Estado Colonial Português no continente africano. Essa produção literária, inicialmente centrada na produção poética – cuja estrutura ficcional de atuação ambivalente favoreceu a possibilidade tanto de crítica à situação colonial em África quanto o despertar de uma consciência nacional/continental –, forjou-se como elemento subsidiário da luta pelo direito à autodeterminação dos territórios sob o domínio colonial português. Mais tarde, a descoberta do romance como narrativa capaz de produzir relatos sobre a própria situação social dos colonizados se constituiria como importante arma na luta contra a tentativa de dominação sociocultural perpetrada pelo colonialismo português. Tais produções – amparadas na busca pela recriação do homem africano – urdiram-se, em certo período da história, principalmente em meados da década de 1940, identificadas com os princípios negritudinistas e posteriormente reelaboradas dentro de referências estéticas localizadas – a exemplo de movimentos político-culturais desenvolvidos no interior das nações colonizadas. A produção ficcional dos escritores africanos de língua portuguesa conseguiu iniciar não só uma revolução sociopolítica, mas também estética, na medida em que aspiram a uma redescoberta do ser africano, bem como a uma ruptura com os modelos estéticos existentes. Este simpósio reúne os trabalhos, pesquisas que abordam, dentre outras coisas: literaturas africanas de autoria feminina/literaturas africanas e história/ literaturas africanas anglófonas e lusófonas traduzidas em português/ literaturas africanas do século XXI.
SIMPÓSIO TEMÁTICO 2
ESTUDOS DE FICÇÃO CONTEMPORÂNEA E FICÇÃO DE SI: DESDOBRAMENTOS E DESLOCAMENTOS.
COORDENADORAS:
Dra. Andrea Tereza Martins Lobato – UEMA
Dra. Maria Iranilde Almeida Costa Pinheiro - UEMA
Dra. Martha Alkimin – UERJ/CNPQ
Este simpósio abriga propostas que se centrem em estudos de narrativas contemporâneas cujas fronteiras entre realidade e ficção, literatura e vida estejam diluídas e/ou rompidas na diegese literária, de modo que as referencialidades que delas possam emergir diluam-se num jogo de ‘verdade’ e ‘mentira’, evidenciando relatos em que o gesto autobiográfico, revelando-se no sujeito ficcional, polui ou fragiliza a noção de ‘acontecimento’ real. Em tais narrativas, o “sujeito de escrita” não “está sempre a desaparecer” (FOUCAULT, 2009, p.35), mas a se constituir performaticamente numa nova subjetividade autoral, que não se apaga no texto nem se apropria de uma “verdade” transcendente sobre a obra. Ao se considerar o relato autobiográfico como a possibilidade de verbalizar o repertório das experiências humanas ou, ainda, o espaço da possibilidade de sentido da experiência subjetiva, há de se refletir que essa experiência subjetiva está para além de uma verdade documental, para além de uma prova factual. Aquele que narra sua própria história está imbuído de poder: controla a estruturação dos fatos, dosa a medida de drama e suspense daquilo que suas lembranças contam. Tudo ilusão? Seu personagem fala muito mais ou, de outro turno, muito menos do que os desdobramentos do sujeito que narrou aquilo que viveu (o que acha que viveu, o que desejou ter vivido, ou o que imaginou ter vivido)? Neste sentido, serão aceitos nesse simpósio estudos que versem sobre as ficções de si, cujos múltiplos desdobramentos e escolhas estéticas construam novas subjetividades e reconfigurem o lugar de autoria.
REFERÊNCIAS
BARTHES, R. A morte do autor. In: BARTHES, R. O rumor da língua. Trad. Mário Laranjeira. 3ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.
BLANCHOT, Maurice.. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.
BRAUNSTEIN, Néstor A. Memoria y espanto o El recurdo de infância. México: Siglo XXI, 2008.
DUQUE-ESTRADA, E. M. Devires autobiográficos: a atualidade da escrita de si. Rio de Janeiro: NAU/ Editora PUC-Rio, 2009.
FOUCAULT, M. O que é o autor? Trad. José A. B de Miranda e Eduardo Cordeiro. 7ª ed. Lisboa: Veja Passagens, 2009.
GOMES, A. C; SCHMIDT, B.B. (orgs.). Memória e narrativas (auto) biográficas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2011.
KLINGER, D. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada etnográfica. 2. ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012.
SIMPÓSIO 3- LITERATURA EM TEMPOS DIGITAIS: TENDÊNCIAS E TENSÕES
COORDENADORES:
Prof. Dr. Emanoel Cesar Pires de Assis – UEMA/UFPI
Prof. Dr. Andriolli de Brites da Costa – UNEB
Diante das pulsões do digital, que nos atravessam de maneira pungente nos mais diversos âmbitos – do social ao artístico, do político ao econômico – percebemos as mudanças estruturais que perpassam o universo da Literatura. Neste seminário, investigaremos as tendências e tensões que permeiam a relação entre literatura e digital nos seus sentidos mais amplos, de forma a garantir a heterogeneidade de possibilidades críticas, teóricas e metodológicas que marca o campo e possibilitar a troca entre pesquisadores iniciantes e mais experientes na área. Para tanto, entre os temas de interesse de discussão, estão os autores independentes que buscam nas redes caminhos para acessar o mercado com outros filtros, hoje algorítmicos; as mobilizações coletivas em redes sociais capazes de alavancar escritores, mas também cobrar e expor seu alinhamento a pautas sociais em voga; as interações diretas entre autores e seu fandom, capazes de transformar a própria produção; introduções de linguagens transmidiáticas que oferecem ao leitor experiências que vão para além do texto escrito; experiências de leituras de textos em meio digital, tanto os criados no meio digital quanto os para ele migrados; propostas de utilização de ferramentas computacionais para o ensino e/ou a análise de obras literárias; Data mining, narrativas e jogos digitais, leitura distante, humanidades digitais e outros conceitos e temas que relacionam a produção e a recepção de Literatura em meio eletrônico são bem-vindos também.
REFERÊNCIAS:
JOCKERS, Matthew L. Macroanalysis: digital methods & literary history. Chicago: University of Illinois Press, 2013;
LEMOS, André. Cibercultura. Tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 4.ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2008;
MORETTI, Franco. A literatura vista de longe. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2008;
OLINTO, Heidrun Krieger e SHOLLHAMMER, Karl Erik (org.). Literatura e mídia. São Paulo: Loyola, 2002;
PIPER, Andrew. Enumerations: data and literary study. Chicago: The University of Chicago Press, 2018;
RAMSAY, Stephen. Reading Machines: toward an algorithmic criticism. Chicago: University of Illinois Press, 2011;
ROCKWELL, Geoffrey; SINCLAIR, Stéfan. Hermeneutica: computer-assisted interpretation in the humanities. Cambridge: The MIT Press, 2016;
UNDERWOOD, Ted. Distant horizons. University of Chicago Press, 2
SIMPÓSIO 4: Cidade, memória e patrimônio na literatura moderna e contemporânea. Proponentes: Profa. Dra. Silvana Maria Pantoja dos Santos (UEMA/UESPI/CNPq); Profa. Dra. Elisabete da Silva Barbosa (UESBA).
A cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas das mãos, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimões das escadas [...]” (CALVINO, 1990, p. 14/15). Assim Calvino se reporta à cidade na sua relação com a memória. Essa visão se justifica pelo caráter citadino de comportar vivências particulares, sociais, bem como a memória do lugar, por meio de registros históricas e culturais, logo, o modo como o patrimônio cultural é ressignificado na literatura permite a valorização de um legado invisibilizado, muitas vezes, pela condição cambiante, fragmentada e fugaz da cena cotidiana. Neste simpósio, serão acolhidos trabalhos que abordem a relação entre cidade e memória; cidade e patrimônio urbano; e cidade e memória cultural, a partir das interfaces com o texto literário. É possível pensar a cidade revestida de artefatos, bens culturais, que resistem ao tempo e à ação humana, arraigados nos costumes e tradições e que se revelam por meio das percepções e sentimentos humanos. A paisagem urbana, de valor patrimonial, é atravessada pela história do lugar, cuja ressonância na literatura se dá pelo modo como repercute em personagens (prosa) e em sujeitos líricos (poema). Os elementos urbanos são a base da memória citadina. Trata-se de ruas antigas, casas, praças, becos, igrejas; elementos da cultura: festas religiosas e populares, danças, além dos fragmentos da cidade: azulejos, beirais de casas, degraus, ruínas, como também louças, móveis, cacos, recortes, restos, dentre outros, capazes de revelar o passado histórico e cultural, com seus costumes, tradições, mitos, crenças e os modos relacionais com os habitantes do lugar. O caráter semântico do espaço advém do seu aspecto relacional, logo sua precisão ou imprecisão; sua forma física, imaginária ou simbólica não invalida a atribuição de sentido. Dessa forma, a cidade se apresenta como uma necessidade de escuta daquilo que é dito, muitas vezes em forma de sussurros, cuja linguagem pode se apresentar de diferentes formas. O patrimônio urbano possibilita pensar a intrínseca relação com a memória de um lugar, que ressurge, muitas vezes, da relação com os sujeitos que se pronunciam a partir dos impactos do presente. Sobre a memória, Pereira (2014, p. 12) assevera: “Tal como o arqueólogo diante das ruínas de uma cidade submersa pelo tempo, o sujeito diante da memória não tem senão vestígios e é com eles que reorganizará as suas potências da realidade, com toda a precariedade inerente a este ato”. O trabalho do arqueólogo assemelha-se ao do sujeito da obra literária que coloca em evidência a memória citadina: a de escavação e registro do passado por meio de vestígios, lampejos e rastros do patrimônio, possíveis no presente.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Memória. Patrimônio urbano.
CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Trad. Diogo Mainard. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
PEREIRA, Danielle Cristina Mendes. Literatura, lugar de memória. Revista Soletras, Rio de Janeiro, n. 28,
SIMPÓSIO 5- MEMÓRIA E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA LITERATURA MARANHENSE
COORDENADORAS:
Dra Solange Santana Guimarães Morais – UEMA
Dra Lucélia de Sousa Almeida - UFMA
Há pelo menos duas maneiras de identificar a realidade do Estado do Maranhão. Uma é identificá-la geograficamente. Desta maneira, o Maranhão é uma das vinte e sete unidades federativas (Estados) que formam o país Brasil. Outra maneira é identificá-la através das variadas representações culturais que contribuem para o processo de identificação do Maranhão como um “lugar” (AUGÊ, 2012). De uma maneira ou de outra o Maranhão pode ser sentido como um “lugar de memória” (NORA, 1993). Neste “lugar” Maranhão há uma considerável quantidade de produtores da sua cultura com destaque para romancistas, poetas, cronistas e contistas que constroem memórias do Maranhão através de suas letras. São construções literárias pertencentes aos contextos sociais nos quais viveram ou ainda vivem os que se identificam e são identificados por maranhenses. Nesse sentido, a literatura maranhense pode ser compreendida como o conjunto da produção literária que proporciona visualizar processos de identificações sobre ou a partir de um lugar físico, mas principalmente, um “lugar” cultural chamado Maranhão. Tomando de empréstimo o sentido de “experiência” (erfahrug) em Walter Benjamin (2004), considera-se que, literatos e literatas maranhenses do passado, dialogam as próprias “experiências”, com literatos e literatas do presente. Sendo assim, o presente simpósio objetiva acolher trabalhos interessados no tema sobre memória e identidade na Literatura Maranhense (na prosa, poesia ou teatro) para realizarmos diálogos profícuos sobre os estudos. Compreendemos que são visíveis as relações entre literatura e memória quando o sujeito-leitor maranhense considera que a narrativa do sujeito-autor maranhense lhe é relevante, lhe afeta, lhe produz sentimentos de “pertença” (ARENDT, 1983) com o “lugar” (AUGÊ, 2012) Maranhão, através do narrado. Para isto são necessárias, ainda, as reflexões sobre identidade de Candau (2011) e Hall (2006).
REFERÊNCIAS
AUGÉ, Marc. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. São Paulo: Papirus, 2012.
ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Papirus, 1983.
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994 (Obras Escolhidas, V.I)
CANDAU, Joel. Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2011.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.
HALL, Stuart. Identidades culturais na pós-modernidade. Rio de Janeiro:DPA, 2006.
NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. Revista Projeto História. São Paulo, v. 10, p. 7-28, 1993.
jul.- dez., 2014.
6-SIMPÓSIO -LITERATURA, INSÓLITO FICCIONAL E IMAGINÁRIO
COORDENADORES:
Dr. Josenildo Campos Brussio – UFMA/CNPQ
Dr. Carlos Ribeiro Caldas Filho – PUC Minas
O presente simpósio pretende agregar trabalhos e comunicações que dialoguem com a literatura fantástica ou o insólito ficcional, enquanto problematização e reflexão sobre gêneros, modos, categorias do discurso que fogem da mimesis realista. A literatura fantástica tem se destacado enquanto gênero literário e despertado a teoria e crítica literárias para debates teóricos-metodológicos cada vez mais acalorados sob o ponto de vista conceitual, classificatório e epistemológico do campo literário. Há uma gama de obras literárias que abordam temas do insólito ficcional, da ficção científica, do fantástico, da monstruosidade, do gótico, da tanatologia, da (anti)religiosidade, das distopias, do realismo mágico, entre outros. Tzvetan Todorov, em Introdução à literatura fantástica (1970), condensou as ideias de teóricos, críticos e literatos com a intenção de estruturar uma definição para a literatura fantástica e apresentou três conceitos básicos para o insólito ficcional: o estranho, o maravilhoso e o fantástico, conceitos este ligados à reação dos personagens e de um leitor implícito a um evento sobrenatural. Também não se pode olvidar as contribuições Filipe Furtado e Rosemary Jackson (1981), em “Fantástico: modo” (2009), sobre a similitude do modo fantástico como uma fenomenologia metaempírica. Furtado defende que o metaempírico (2021 [s/d]) englobaria, para além de acontecimentos da ordem do sobrenatural, outros que, assustadores ou não, percebam-se insólitos, inexplicáveis quando da produção do texto. Hoje, são muitos os teóricos e teorias que discutem criticamente a literatura do fantástico, abrindo-se como um campo abrangente, dinâmico e ilimitado de possibilidades tal como afirmam Gama-Khalil e Milanez (2013): “a imagem de uma rede repleta de fios diversos possibilita-nos pensar também na constituição da ficção fantástica, no enredamento do mundo diegético apresentado por ela”, ou seja, o ilógico também faz parte da lógica do mundo. Assim, convidamos todos aqueles que tem interesse em discutir as dimensões fantásticas/insólitas dos personagens humanos e não humanos das narrativas escritas e orais nacionais e internacionais para apresentarem as suas reflexões e críticas no presente simpósio.
REFERÊNCIAS:
CARREIRA, Shirley de Souza Gomes. ENTRE HUMANOS E BESTAS: o insólito ficcional em The Great God Pan e Sham. In: Ilha do Desterro, v. 70, nº1, p. 091-101, Florianópolis, jan/abr 2017.
FURTADO, F. Fantástico: modo. In: CEIA, C.(Coord.). E-Dicionário de Termos Literários (EDTL). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2009. Disponível em https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/fantastico-modo. Acesso em 16 de abr. de 2021.
FURTADO, F. Metaempírico. In: REIS, C.; ROAS, D.; FURTADO, F.; GARCÍA, F.; FRANÇA, J. (Eds). Dicionário Digital do Insólito Ficcional (e-DDIF). Rio de Janeiro: Dialogarts, s/d. Disponível em http://www.insolitoficcional.uerj.br/m/metaempirico. Acesso 21 de abr. de 2021.
GARCIA, Flavio; BATALHA, Maria Cristina; MICHELLI, Regina Silva (org.) Vertentes teóricas e ficcionais do insólito - Comunicações em Simpósios e Livres I Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional / IV Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional / XI Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2013.
GARCIA, Flavio. A CONSTRUÇÃO DO INSÓLITO FICCIONAL E SUA LEITURA LITERÁRIA: procedimentos instrucionais da narrativa. In: I Congresso Nacional de Linguagens e Representações: Linguagens e Leituras, UESC - Ilhéus – BA, 14 a 17 de outubro, 2009.
TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1970.
SIMPÓSIO 7: Literatura e Filosofia: diálogos multifacetados – viagem, memória e subjetividade.
COORDENADORAS:
Profª Drª Maria Aracy Bonfim (UFMA)
Profª Drª Cacilda Bonfim (IFMA)
“As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN,1982, p. 41). É a partir dessa ideia bakhtiniana que este simpósio se propõe a receber trabalhos que estudem temas ligados mais especificamente à literatura de viagem, literatura e memória e à própria subjetividade, enquanto particularidade inerente à narrativa e seus estudos. Deste modo, as diversas faces da tessitura dialógica entre os dois grandes temas são bem-vindos, pois nesta proposta coaduna-se a consciência de que a relação entre Literatura e Filosofia é feita de proximidades e distâncias: “A Filosofia não deixa de ser Filosofia tornando-se poética nem a poesia deixa de ser poesia tornando-se filosófica. Uma polariza a outra sem transformação assimiladora”(NUNES, 2009). O enlace entre a linguagem literária e a filosófica desde há muito engrandece e dignifica a jornada existencial humana que doa sentido ao mundo. Através desse diálogo multidisciplinar, o olhar do leitor atravessa o texto aguçando seu entendimento às nuanças que lhe permitem emergir na narrativa literária em compreensões ímpares que iluminam as mais variadas interpretações de um texto. Sabe-se que a produção de narrativas literárias se engendrou dentre algumas correntes filosóficas, abordando a subjetividade humana em suas manifestações de angústia, ansiedade, medo, loucura frente à interação do ser humano com o mundo, com ênfase no liame entre escritor e leitor: “Uma vez que a criação só pode encontrar sua realização final na leitura, uma vez que o artista deve confiar a outrem a tarefa de completar aquilo que iniciou, uma vez que é só através da consciência do leitor que ele pode perceber-se como essencial à sua obra, toda obra literária é um apelo (SARTRE, 1947). A Literatura de viagem, por sua vez, intermedia não apenas o registro do deslocamento, mas propicia a transmutação da experiência em texto na ambivalente construção a um só tempo subjetiva e cultural, e a Memória, que traz consigo o cerne da própria Literatura, possibilita a abertura essencial para a manifestação da natureza ontológica do sensível, como afirma Walter Benjamin (1982): “A memória é a mais épica de todas as faculdades” ou ainda “A reminiscência funda a cadeia da tradição”. Ancorando-se em tais tópicos, este simpósio acolherá trabalhos que se lancem a indagações concernentes ao diálogo literário-filosófico, que podem dar fulcro aos percursos analíticos acerca da Memória na literatura e também na produção advinda do trânsito: lugares e textos, que vêm a formar a literatura de viagem. Convidamos, portanto, à troca de ideias em torno dos temas como abertura a diálogos profícuos.
REFERÊNCIAS
ADAMS, Percy G., Travel Literature Through the Ages: An Anthology. New York and London: Garland, 1988.
BAKHTIN, Mikail. Marxismo e filosofia da linguagem. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 1982.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
LINS, Osman. Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição social e a realidade social. 1 ed. Martins: São Paulo, 1969.
NUNES, Benedito. Poesia e Filosofia: uma transa. In HOHDEN, Luiz; PIRES, Cecília (Orgs.). Filosofia e Literatura: uma relação transacional. Ijuí: Unijuí, 2009.
SARTRE, Jean-Paul. O que é Literatura? Tradução de Carlos Felipe Moisés. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. (coleção textos filosóficos).
8- SIMPÓSIO-MEMÓRIA, FEMINISMO(S) E A ESCRITA DE AUTORIA FEMININA
COORDENADORAS:
Algemira de Macedo Mendes – UEMA/UESPI/CNPQ
Alexandra Santos Pinheiro-UFGD/CNPQ
Keyle Sâmara Ferreira de Souza – SEDUC-CE
A escrita de mulheres está permeada de memórias e escrita de si, de forma que estas obras contribuem para o reconhecimento de identidades dessas mulheres escritoras, que acabam por representar as vivências também de outras mulheres de seu tempo. Desse modo, a percepção e análise desses traços de registros memorialistas, bem como, de escrita de si, permite múltiplas reflexões e análises sobre a escrita feminina, como também o valor destas estratégias tão presentes nas produções das escritoras do século XIX a contemporaneidade, tanto na composição de diversos gêneros como na composição. A partir da escrita de mulheres pode-se analisar o modo de lembrar, seja individual e/ou social, possibilitando o reconhecimento de como as memórias comunitárias vão se individualizando, como também a forma que as escritoras socializam suas memórias pessoais. Observa-se que o tempo da memória é social e interfere no modo de lembrar das autoras que acumulam também a função de recordadoras quando discorrem sobre eventos de sua própria vida. Nesse contexto, ainda se destaca que nem toda produção autobiográfica e ou narrativa de memória é uma escrita de si, conforme advertem Rago (2013) e McLaren (2016). Isto posto, pode-se identificar a escrita de si como um traço forte da escritura de mulheres, porque acentua-se na produção delas uma autoconstituição. Ainda segundo estas teóricas supracitadas pressupõe-se que a escrita de si seja uma prática da liberdade na qual escrita e parrésia[1] desempenham um papel fundamental. Este simpósio almeja se configurar como espaço de discussão destas estratégias de escrita utilizadas por muitas mulheres escritoras, dialogando por sua vez numa perspectiva da critica feminista ,problematizando os vários feminismos, Figueiredo(2020).
9 -
REFERÊNCIAS
FIGUEIREDO, Eurídice. Por uma crítica feminista: leituras transversais de escritoras brasileiras. Porto Alegre: Zouk, 2020.
FOUCAULT, Michel. A escrita de si. In: MOTTA, Manuel Barros da (Org.). Ditos e escritos V: Ética, sexualidade, política. Tradução Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 144-162.
HOOKS Bell Olhares negros: raça e representação
editora: Elefante,2016.
HOOKS Bell . Não Serei Eu Mulher? AS MULHERES NEGRAS E O FEMINISMO.Lisboa: Orfeu Negro,2018
RAGO, Margareth. A aventura de contar-se: feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade Campinas: Unicamp, 2013. 344 p.
NGOZI.Adichie Chimamanda .Sejamos todos feministas
Tradução: Cristina Baum,Companhia da Letras S.Paulo:2015
PERROT,Michelli Minha história das Mulheres. São Paulo: Contexto,2007
9 - LITERATURA AFRO-BRASILEIRA: IDENTIDADE, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA DO SÉCULO 19 ATÉ A CONTEMPORANEIDADE
Profa. Drª. Claudia Letícia Gonçalves Moraes – UFMA/FAPEMA
Prof. Me. Rayron Lennon Costa Sousa – UFMA/UFPI/FAPEMA
O presente simpósio pretende acolher reflexões acerca de pesquisas, concluídas ou em andamento, sobre as produções literárias de temática afro-brasileira escritas no bojo do século 19 até os dias atuais. Assim, serão aceitos trabalhos que discutam o protagonismo do negro na literatura e suas tensões na cena literária brasileira, via interseccionalidade entre raça, classe e gênero, bem como sua luta por direitos e sua produção calcada nos conceitos de identidade, memória e resistência na literatura. O foco se colocará na contribuição intelectual, artística e, mais especificamente, literária de autorias afro-brasileira na construção de uma literatura representativa de suas vivências e potencialidades, enquanto movimentos de escrevivências (EVARISTO, 2007), buscando desta maneira uma imagem positivada do negro representado na literatura nacional e na luta contra estereótipos racistas, já que consideram-se as autorias negras como essenciais para a produção de conhecimento por meio da literatura como modus operandi das epistemologias decoloniais. Nessa direção, o simpósio pretende proporcionar à comunidade uma discussão sobre obras literárias em que o negro é o tema principal, fomentando discussões em torno da literatura afro-brasileira e como contribui ainda nos dias de hoje para a formação da sociedade brasileira, favorecendo o enriquecimento cultural, linguístico e social do país. Outro ponto relevante das discussões propostas pelo simpósio giram em torno da aplicação e cumprimento do que dispõe a lei 10.639/2003, que determina a inserção da História e Cultura africana e afro-brasileira na matriz curricular da educação básica, especialmente por meio da História, Literatura e Educação Artística.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura afro-brasileira; Autorias negras; Identidade; Memória; Resistência.
REFERÊNCIAS
CUTI. Literatura negro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2010.
DUARTE, Eduardo de Assis. Literatura afro-brasileira: um conceito em construção. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, nº. 31. Brasília, janeiro-junho de 2008, pp. 11-23.
EVARISTO, Conceição. Literatura Negra: uma poética da nossa afro-brasilidade. 2009. Dissertação (Mestrado em Letras), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
EVARISTO, Conceição. Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. In: Alexandre, Marcos A. (org.) Representações performáticas brasileiras: teorias, práticas e suas interfaces. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007, p. 16-21
FONSECA, Maria Nazareth Soares. Literatura Negra: sentidos e ramificações. In: DUARTE, Eduardo de Assis e _____ (Org.). Literatura e Afrodescendência no Brasil: antologia crítica. Vol. 4. Belo Horizonte: UFMG, 2011. p. 245-278.
MIRANDA, Fernanda. Silêncios prescritos: estudos de romances de autoras negras brasileiras (1859-2006). Rio de Janeiro: Malê, 2019.
MORAES, Claudia Letícia Gonçalves, SOUZA, Fernanda Ferreira. Desigualdade social e violência na literatura negra brasileira: uma análise da infância perdida em contos de Conceição Evaristo. Revista Kwanissa, São Luís, n. 3, p. 99-114, jan/jun, 2019.
SILVA, Mário Augusto Medeiros da. A descoberta do insólito: literatura negra e literatura periférica no Brasil (1960-2000). Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2013.
SANTOS, Ynaê Lopes. História da África e do Brasil afrodescendente. Rio de Janeiro: Pallas, 2017.
Prof. Dr. Rubenil da Silva Oliveira (UFMA)
Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes de Almeida (UNILA)
Este Simpósio agregará trabalhos que discutam as relações entre memória e identidade das maiorias minorizadas representadas na literatura. Neste sentido, a voz desses sujeitos pode ser vista como um ato de resistência, já que dá a esses grupos o poder de sair do lugar do invisível onde a história e os grupos dominantes o puseram durante séculos. Por sua vez, acolheremos as memórias e subjetividades que identificam e carregam a lembrança dos sujeitos LGBTQIA+, negros, indígenas, pessoas com deficiência, crianças, diasporizados e outras vozes que foram silenciadas por processos históricos e culturais presentificadas nas diferentes manifestações da literatura e das artes. Além de considerar os diversos meios de difusão das representações das identidades já apontadas, o texto impresso, a televisão, o cinema, pois esses veículos por pretenderem a conquista e/ou terem diferentes públicos adotam, também, diferentes linguagens e modos de representação. Para uma maior compreensão desse universo múltiplo de identidades LGBTQIA+, relações entre os gêneros e da negritude, indígenas, estrangeiros e suas representações recomenda-se a leitura de Trevisan (2002), Peret (2009), Halbwachs (2013), Candau (2019), Zolin (2005), Beauvoir (2016), Fanon (2008), Brookshaw (1959), Hall (2013), Yates (2007), Rossi (2010), Bhabha (2014), entre outros. Desse modo, este espaço servirá para o debate e expressão de investigações que rompem silêncios e quebram tabus à medida que trazem esse código político para a visibilidade de identidades silenciadas e estigmatizadas na história no contexto brasileiro e mundial e suas contribuições para a crítica da literatura na contemporaneidade.
Palavras-chave: Crítica Literária; Memória; Identidades; Subjetividades; Resistência.