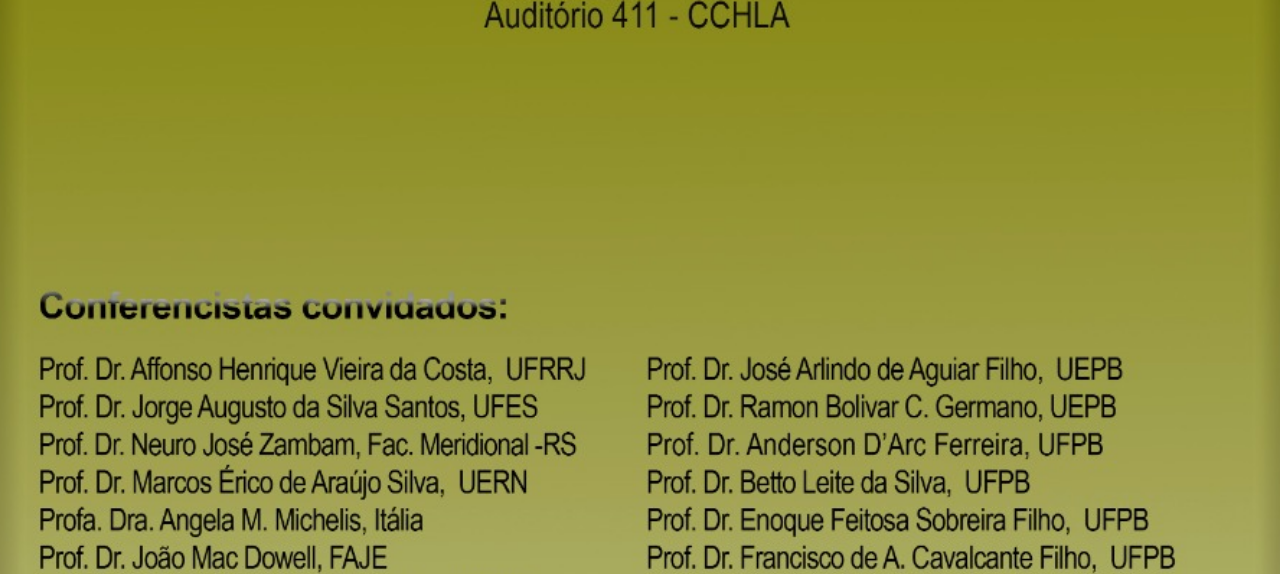
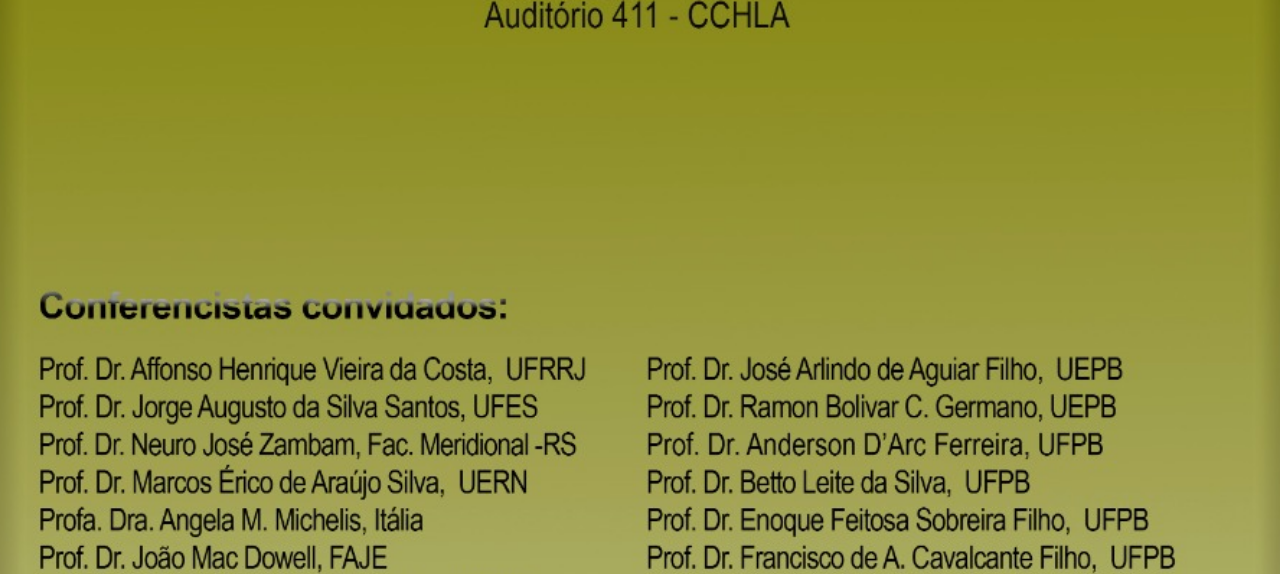
CADERNO DE RESUMOS
(Buscar pelo número de ordem)
01.Alan Nascimento Rodrigues -Coordenação
A crítica genealógica de Nietzsche à moral e à cultura moderna: considerações sobre a crise dos valores e a educação
02.Ana Paula Marcelino da Silva
A antropologia pragmática como parte do projeto crítico de Kant
03.Edson de Oliveira Silva
Justiça e virtude na República de Platão
04.Eugênia Ribeiro Teles - Coordenação
O que é uma emoção?
05.Gilmara Coutinho
O amor na filosofia schopenhaueriana
06.Jean Carlos Cavalcante Novo
Estética como Metafísica de Artista em Nietzsche
07.Lisandra Teixeira - Coordenação
O problema da técnica e a urgência do mistério
08.Lucas de Lima Cavalcanti Gonçalves
O problema do método na fenomenologia de Martin Heidegger
09.Mateus da Silva Fernandes
Ressentimento: uma análise ontológica
10.Rogerio Galdino Trindade
Singularidade e Liberdade: o destino histórico e o problema da alteridade indígena
11.Sharlon Santos de Lucena
A questão da verdade na filosofia de Martin Heidegger: uma leitura do conceito grego de alethéia
12.Victor Pereira Gomes
A verdade do amor na metafísica e na moral de Arthur Schopenhauer
13.Yamille Fragoso de Medeiros Nunes
Filosofia e psicanálise: uma breve reflexão acerca da criação do artista nas perspectivas de Martin Heidegger
14.Wellington Faustino de Melo da Silva
Eudaimonia e helenismo: considerações sobre a ética a partir do ceticismo pirrônico
…………….01…………….
AUTOR(a): Alan Nascimento Rodrigues (alanmsn10@hotmail.com)
TÍTULO: A crítica genealógica de Nietzsche à moral e à cultura moderna: considerações sobre a crise dos valores e a educação
RESUMO: A presente comunicação ocupar-se-á em trazer algumas considerações filosóficas sobre Friedrich Nietzsche (1844-1900), mais especificamente à critica genealógica nietzschiana a cultura moderna, baseando-se na análise da obra "Genealogia da moral (2006), “Escritos sobre educação” (2012) e comentadores. Entendemos, inicialmente, que a educação tal como versa a perspectiva filosófica nietzschiana deverá levar o indivíduo a intervir autonomamente na vida, a fim de transformar uma existência niilista em existência afirmativa de vida ativa, em que se abra espaço para a vontade de potência. A partir da análise das referidas obras e de outros escritos do autor, perguntamos: como é possível criarmos as condições de possibilidade à educação que conceba o pensamento nietzschiano como fundamento teórico-metodológico? Para respondermos a essa questão deveremos apresentar uma discussão sobre a crítica de Nietzsche à Modernidade, que com seu apelo à razão, acaba por desconsiderar a possibilidade construtiva de vida autêntica (Dionisíaca), alegre e criativa. Em meio a uma sociedade que opta por fortalecer uma cultura que inibe, ignora e domestica o espírito humano, Nietzsche propõe o fortalecimento de uma cultura elevada (aristocrata), não jornalística e que retome os verdadeiros valores. A presente investigação deverá nos levar a compreender que o filósofo assume uma “perspectiva estética” em que, pela transvaloração dos valores, o homem passa a estar no mundo significativamente: nesse sentido o “homem-velho” deverá dar lugar ao “além-homem” de “espírito-livre”, capaz de dizer “sim” à vida e encarar o diferente como reafirmação de si. Não nega o “não-eu”, acolhe-o. Por fim, objetivamos concluir o presente estudo a partir da análise das obras citadas, indicando que a educação deverá promover o desenvolvimento das potencialidades individuais e capacidades humanas para uma vida questionadora, ativa e criativa, para que se evite uma existência domesticada comprometida com a cultura de massa (instinto de rebanho).
PALAVRAS-CHAVE: Nietzsche. Subjetividade moderna. Moral. Valores. Educação. Existência.
…………….02…………….
AUTOR(a): Ana Paula Marcelino da Silva (anapaula_marcelino@yahoo.com.br)
TÍTULO: A antropologia pragmática como parte do projeto crítico de Kant
RESUMO: A partir da tese complementar de doutoramento defendida por Foucault nos anos 1960 a Antropologia de um ponto de vista pragmático, obra que foi publicada em 1798, pouco antes do falecimento de Kant, ressurgiu nas discussões da vasta obra do filósofo mais influente da modernidade. Para Kant, uma antropologia pragmática pretende entender o que o ser humano faz, pode e deve fazer de si mesmo, diante do mundo. Para entender isso, Kant recorre a documentos de viagens, livros e até à própria observação do mundo. Uma análise imediata levaria à compreensão de que entre a Antropologia e a obra crítica de Kant não haveria nenhuma relação. Essa é a posição adotada por alguns kantianos, inclusive. Todavia, uma das teses defendidas por Foucault em sua análise acerca da gênese e da estrutura da Antropologia de Kant é a de que esta obra guarda relação estrita com a Crítica da razão pura, obra fundamental do projeto crítico em alguns pontos específicos. Foi a partir deste entendimento que muitos estudiosos chegaram à conclusão de que o conceito de natureza humana, discutido na Antropologia, é o escopo de toda obra crítica de Kant, visto que este responde a um questionamento fundamental que aparece pela primeira vez na Lógica, mas que não é respondido por esta, a saber, “o que é o homem?”. Neste trabalho, analisaremos brevemente as discussões acerca da importância da Antropologia de um ponto de vista pragmático para a obra de Kant e a concepção de natureza humana que baseia esta obra.
PALAVRAS-CHAVE: Antropologia; Kant; natureza humana.
…………….03…………….
AUTOR(a): Edson de Oliveira Silva (edson.osilva@outlook.com)
TÍTULO: Justiça e virtude na República de Platão
RESUMO: Nosso objetivo é apresentar de forma breve o conceito de virtude (em grego, Areté) em alguns diálogos platônicos no sentido de mostrar porque, para Platão, no diálogo A República, o conceito de justiça (em grego, Dikaiosýne) é descrito como a virtude em si. Como se sabe, o problema da virtude teve início no Protágoras e se estendeu por vários diálogos como: Mênon, Fédon, A República, Górgias e nas Léis. Mas Platão se deteve a discutir acerca da questão com maior atenção no Mênon. Platão utiliza no Mênon uma característica única que difere de toda produção anterior e posterior a este dialogo. Essa característica envolve a utilização de três métodos de investigação, a saber; o elenchos, a anamnese e o método hipotético. Com efeito, uma distinção deve ser feita acerca da virtude, pois no Mênon virtude significa um saber enquanto em A República uma qualidade. No Mênon a virtude tem caráter pedagógico e epistemológico, pois o que está em jogo é sua ensinabilidade bem como sua cognoscibilidade, pois antes de se saber se é ensinável ou não o que Sócrates considera fundamental é saber o que é a virtude. Em A República virtude seria então uma capacidade de realizar uma determinada tarefa, seria também uma capacidade de realizar uma determinada função, também pode ser considerado uma habilidade. A virtude aqui tem caráter ético por que se refere a uma função social e política. Também será determinante para o melhor desempenho e realização das tarefas e funções designadas a cada cidadão. O cidadão deve realizar sua função na sociedade segundo sua capacidade para tal. Platão utiliza como exemplo a função dos olhos que tem como virtude a função de ver. Nesse caso a virtude é uma função para tal. Por exemplo, o cavalo virtuoso é um cavalo que tem como virtude ser veloz. Aqui fica claro que a virtude é uma habilidade de desenvolver certa função. E nos parece que no caso da velocidade, isso pode ser aprimorado através do treinamento. Eis porque se faz necessário implementar um projeto ambicioso de educação estatal (Paideia) que seria a condição de possibilidade para a vida harmônica na polis ideal (Kallipolis).
PALAVRAS-CHAVE: Virtude, Justiça, Polis, Platão.
…………….04…………….
AUTOR(a): Eugênia Ribeiro Teles (eugeniateles@yahoo.com.br)
TÍTULO: O que é uma emoção?
RESUMO: O presente trabalho aborda uma questão primordial dentro da filosofia das emoções que diz respeito a própria definição do que é uma emoção. Por se constituir um objeto de estudo difícil de ser compreendido, devido a sua natureza complexa e diversa, existem diferentes teorias que tentam solucionar essa questão. Dentre tantas respostas, apresentam-se as teorias perceptuais e as teorias avaliativas das emoções. Naturalmente, temos uma tendência a associar as emoções com as sensações corpóreas, pois a maior parte das emoções envolve uma sensação. No entanto, existem algumas objeções em relação à teoria que define as emoções em termos apenas do sentir, visto que as emoções, apesar de em grande parte apresentarem sensações, elas apresentam também outros elementos constituintes, tais como, uma direção de ajuste em relação ao mundo e uma intencionalidade. Assim, as teorias chamadas cognitivas, como é o caso daquelas que definem as emoções como julgamentos de valores e como percepções de valores apresentam uma alternativa às teorias sensualistas. As teorias avaliativas definem as emoções em termos avaliativos e negam o aspecto fenomenológico das emoções. De forma bem simples, pode-se dizer que sentir medo de algo é simplesmente julgar esse algo como temível; admirar alguém é julgar essa pessoa admirável; amar uma pessoa significa julgá-la digna de amor, etc. Por sua vez, as teorias perceptuais dizem que as emoções são, essencialmente, experiências perceptuais das propriedades avaliativas, de forma que ama alguém significa perceber esse alguém como digno de amor. Diferentemente da teoria dos julgamentos de valores, a teoria das percepções de valores oferece um lugar às sensações, visto que ela baseia-se em duas afirmações, quais sejam: as emoções envolvem as sensações e as emoções envolvem representações. A partir dessas duas teorias, objetiva-se fazer uma análise de suas plausibilidades. Para tanto, inicialmente explana-se as duas teorias, em seguida apresenta-se algumas objeções a cada uma delas, e por fim, argumenta-se que dentre as duas teorias apresentadas a teoria das emoções como percepção de valores é mais plausível do que a teoria das emoções enquanto julgamento de valores.
PALAVRAS-CHAVE: Emoção; Percepção de valores; Julgamento de valores.
…………….05…………….
AUTOR(a): Gilmara Coutinho (gilmara.coutinho.uepb@gmail.com)
TÍTULO: O amor na filosofia schopenhaueriana
RESUMO: Esta comunicação tratará sobre o tema do amor na filosofia do alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860), segundo o qual “O amor é uma verdade”, vendo que se destaca em sua obra tanto no livro IV de O mundo como vontade e como representação e em Sobre o fundamento da moral, como nos Suplementos de O mundo como vontade e como representação, no capítulo 44, intitulado Metafísica do amor sexual. Contudo, no todo de sua obra, a ideia de “amor à vida” é recorrente, no que se refere à vontade de vida: está na natureza dos seres uma luta pela conservação da vida, que num olhar mais geral, é uma luta pela conservação da espécie. A vontade, conceito basilar da filosofia schopenhaueriana, é a coisa em si do mundo, muito embora um ímpeto cego, sem finalidade, contraditória e livre, sua “condição” é a vida – “a vontade de vida a vida é certa”. A partir disso, o filósofo desenvolve duas teorias sobre o amor, uma em sua metafísica e outra em sua moral. Quanto à primeira, corresponde a uma análise que pouco espaço encontrou entre os filósofos, diferente do que se dá, por exemplo, na literatura, que traz como um dos seus temas principais o amor romântico. A este Schopenhauer desenvolve o pensamento de que o que ocorre entre os homens, na verdade, não é um apaixonar-se, mas o desejo de conservação da espécie, travestido de juras de amor, sacrifícios e toda sorte de confusões que a ilusão desse sentimento podem causar. Em outro momento, em sua filosofia moral, desenvolve a ideia do que chama de “amor genuíno” – a compaixão. Para ele, o que fundamenta a moralidade não é outra coisa senão esse sentimento misterioso que leva alguém a compadecer-se da dor de um outro, mesmo que um “estranho”, e tentar suprimi-la. O objetivo aqui é, portanto, apresentar essas diferentes perspectivas do amor na filosofia de Schopenhauer, partindo do estudo das obras supracitadas, sem fazer um juízo de valor sobre elas, mesmo porque, em especial no que se refere ao amor sexual, é preciso considerar que trata-se de um filósofo do século XVIII, cujo pensamento está vinculado ao seu momento histórico, científico e cultural. O intento é, pois, discutir como este sentimento presente na espécie humana é apresentado na filosofia do autor em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Vontade. Amor Erótico. Compaixão.
…………….06…………….
AUTOR(a): Jean Carlos Cavalcante Novo (jccnovo@gmail.com)
TÍTULO: Estética como Metafísica de Artista em Nietzsche
RESUMO: Em que sentido se pode falar de uma estética na obra de Nietzsche? Entendendo a estética como metafísica de artista, a partir de uma leitura de “O Nascimento da Tragédia”, mostrar como Nietzsche pretende libertar a arte do paradigma da subjetividade a que foi reduzida na modernidade, sob o horizonte de uma crítica à metafísica tradicional. Nosso objetivo é compreender o sentido da inversão do platonismo como a sua superação e não como uma mera reorganização da posição hierárquica de seus elementos.
PALAVRAS-CHAVE: Arte; estética; metafísica; subjetividade.
…………….07…………….
AUTOR(a): Lisandra Teixeira (lisandra@tutanota.de)
TÍTULO: O problema da técnica e a urgência do mistério
RESUMO: O trabalho propõe analisar o problema da técnica moderna trabalhada pelo filósofo alemão Martin Heidegger em sua crítica a modernidade e à metafísica, elencando a questão da verdade, para Heidegger: alétheia. A questão da técnica nos leva a problemática de sua própria essência ge-stell, interpelação, onde o homem é posto para tudo dispor de forma unidimensional, a natureza é forçada a se mostrar como reserva, estoque, se configura como uma forma de domínio e controle, de acordo com sua demanda meramente econômica, científica, comercial, o próprio ser em sua essência é esquecido. O homem se coloca como sujeito para exploração desse objeto. O método utilizado é a análise filosófica de obras heideggerianas, sob objetivo de indagar sobre a essência da técnica moderna como interpelação (Ge-stell) que nos leva a um crescente perigo do esquecimento do ser, e, também, da degradação da própria natureza tida como mero objeto de armazenamento de recursos; assim como refletir sobre a necessidade do mistério como faceta constituinte da verdade do ser como alétheia, desvelamento, como forma de dar um passo atrás em relação à modernidade e sua visão matemático/ científica, elevando o pensamento meditativo como originário e essencial.
PALAVRAS-CHAVE: Técnica; verdade; serenidade; mistério.
…………….08…………….
AUTOR(a): Lucas de Lima Cavalcanti Gonçalves (lucaslcg123@outlook.com)
TÍTULO: O problema do método da fenomenologia de Martin Heidegger
RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento da questão do método no pensamento inicial de Martin Heidegger, caracterizando sua teoria da formação do conceito filosófico como indicação formal. Assim, para Heidegger, a função do filósofo não é de ensinar uma doutrina, um determinado conteúdo a ser intelectualmente apreendido, mas de indicar um caminho a ser percorrido pelo seu ouvinte, de modo a que este possa entrar na situação de compreensão. Heidegger realiza o desenvolvimento de sua análise acerca da questão do método a partir de uma interpretação peculiar da estrutura do comportamento intencional, que analisa em direção de conteúdo, de referência e de realização, mostrando que a função do conceito filosófico consiste em deixar precisamente o conteúdo em aberto, indicando formalmente uma realização, a performação de um ato a partir do qual o ser-próprio do homem é invocado nele e para ele.
PALAVRAS-CHAVE: Fenomenologia hermenêutica; método fenomenológico; analítica existencial
…………….09…………….
AUTOR(a): Mateus da Silva Fernandes (mateus-fernandesmdsf@hotmail.com)
TÍTULO: Ressentimento: uma análise ontológica
RESUMO: A moral descrita na Genealogia da Moral nasce junto à relação senhor e escravo, de sorte que enquanto os nobres afirmaram de si suas próprias forças a partir do que eram, os servos por um não exterior consequente da dissimilute sociológica restaram ser o que os senhores não disseram de si. Assim sendo, aquilo afirmado pelos nobres fizeram corresponder à bondade, enquanto os servos restaram ser o oposto diante do mencionado pathos. Desse modo, os valores dos servos que não correspondiam à afirmação da vida, eram resultado da negação de suas forças e, consequentemente, do ressentimento, de sorte que a moralidade do ocidente a herdou como forma de valorar mediante a vitória dos escravos sobre os nobres, do reativo sobre o ativo. Com isso, pela moral escrava, o conceito bondade foi transferido para a transcendência, e aquela afirmação dos nobres, invertida de boa a ruim. A partir do ressentimento, o qual diz respeito ao sentimento de impotência diante da vida, o ressentido impõe sobre si mesmo sua força de expansão que outrora serviria como maneira de dominação, o que caracteriza a chamada má consciência. Assim sendo, sujeitando-se à depreciação da vida terrena frente a negação de suas forças, o homem idealiza a dualidade entre aparência e essência, mundo perfeito e efêmero, caracterizando o ideal de ascético, que se dá pela renúncia da imperfeição frente o sublime, superior. Essa moral que em sua gênese parte da dissimilitude hierárquica de caráter sociológico, com o tempo adquire racionalidade e ontologia própria. Fazendo com que as gerações posteriores não necessitem novamente inverter nem transferir valores, os quais já estão imbricados como conteúdo na formação do sujeito. A partir daí podemos identificar que o ressentimento, a má consciência e o ideal ascético não são meros eventos que aconteceram, mas composição íntima do arcabouço humano, científico e moral do mundo ocidente, os quais em suas devidas proporções. Portanto, isso que fora denunciado é resultado de um poder que a história detém, o qual é enrijecer estruturas culturais, morais e valorativas com o curso dos tempos. O caráter ontológico adquirido pelo ressentimento se dá porque antes de tudo fora constituído por uma diferença de caráter sociológico. Porém, é importante tomar nota que não é algo inerente ao sujeito. O homem não é um ser ressentido essencialmente falando, mas que é abarcado por uma racionalidade que configura a imanência enquanto ideia. Essa racionalidade é engendrada na própria identidade entre a dialética e o conteúdo, em que resulta na ultrapassagem imanente daquilo determinado pelo entendimento por meio de sua própria antinomia, caracterizando, pois, a saída do entendimento (Verstand) à razão (Vernunft), ou verdade especulativa.
PALAVRAS-CHAVE: Ressentimento. Pathos. Moral. Imanência. Racionalidade.
…………….10…………….
AUTOR(a): Rogerio Galdino Trindade (rogeriogtrindade@hotmail.com)
TÍTULO: Singularidade e Liberdade: o destino histórico e o problema da alteridade indígena
RESUMO: A presente comunicação visa discutir a questão da alteridade e singularidade dos povos indígenas frente à sociedade contemporânea. Ocupa-se em caracterizar o horizonte histórico de uma questão acerca do “destino” destes povos para, então, refletir os caminhos que a discussão do problema tomou nas discussões sociológicas realizadas no Brasil acerca do tema, pensamento este que foi refletido por antropólogos e sociólogos. Trata-se também de elaborar uma critica ao que, através do trabalho antropológico de Darcy Ribeiro, foi conceituado como “transfiguração étnica”. Heidegger presta, neste ponto, serviço essencial, na medida em que postula as bases de consideração para historicidade de um povo. Tomando medidas de consideração culturais e topológicas, procura-se, enfim, pensar a relação que o estado Brasileiro, de cunho moderno, manteve com as populações ameríndias que habitam o seu território.
PALAVRAS-CHAVE: Historicidade; Alteridade; Metafisica; Antropologia.
…………….11…………….
AUTOR(a): Sharlon Santos de Lucena (sharlonlucena@gmail.com)
TÍTULO: A questão da verdade na filosofia de Martin Heidegger: uma leitura do conceito grego de alethéia
RESUMO: O presente trabalho se propõe a uma investigação sobre a questão da verdade compreendida como alethéia no pensamento de Heidegger. Explicita-se a crítica do filósofo ao modo como a verdade foi entendida pela tradição filosófica a partir da abordagem corrente da questão em análise. Em Ser e Tempo, sobretudo, no § 44 parte-se do entendimento do Dasein no âmbito da compreensão do sentido do ser e da essência da verdade. Assim, se instaura a alethéia como verdade originária para designar velamento e desvelamento pensando a verdade a partir dessa tensão onde se dá verdade.
PALAVRAS-CHAVE: verdade, dasein, ser e tempo.
…………….12…………….
AUTOR(a): Victor Pereira Gomes (victorpereiragomes@yahoo.de)
TÍTULO: A verdade do amor na metafísica e na moral de Arthur Schopenhauer
RESUMO: Esta comunicação tratará sobre o tema do amor na filosofia do alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860), segundo o qual “O amor é uma verdade”, vendo que se destaca em sua obra tanto no livro IV de O mundo como vontade e como representação e em Sobre o fundamento da moral, como nos Suplementos de O mundo como vontade e como representação, no capítulo 44, intitulado Metafísica do amor sexual. Contudo, no todo de sua obra, a ideia de “amor à vida” é recorrente, no que se refere à vontade de vida: está na natureza dos seres uma luta pela conservação da vida, que num olhar mais geral, é uma luta pela conservação da espécie. A vontade, conceito basilar da filosofia schopenhaueriana, é a coisa em si do mundo, muito embora um ímpeto cego, sem finalidade, contraditória e livre, sua “condição” é a vida – “a vontade de vida a vida é certa”. A partir disso, o filósofo desenvolve duas teorias sobre o amor, uma em sua metafísica e outra em sua moral. Quanto à primeira, corresponde a uma análise que pouco espaço encontrou entre os filósofos, diferente do que se dá, por exemplo, na literatura, que traz como um dos seus temas principais o amor romântico. A este Schopenhauer desenvolve o pensamento de que o que ocorre entre os homens, na verdade, não é um apaixonar-se, mas o desejo de conservação da espécie, travestido de juras de amor, sacrifícios e toda sorte de confusões que a ilusão desse sentimento podem causar. Em outro momento, em sua filosofia moral, desenvolve a ideia do que chama de “amor genuíno” – a compaixão. Para ele, o que fundamenta a moralidade não é outra coisa senão esse sentimento misterioso que leva alguém a compadecer-se da dor de um outro, mesmo que um “estranho”, e tentar suprimi-la. O objetivo aqui é, portanto, apresentar essas diferentes perspectivas do amor na filosofia de Schopenhauer, partindo do estudo das obras supracitadas, sem fazer um juízo de valor sobre elas, mesmo porque, em especial no que se refere ao amor sexual, é preciso considerar que trata-se de um filósofo do século XVIII, cujo pensamento está vinculado ao seu momento histórico, científico e cultural. O intento é, pois, discutir como este sentimento presente na espécie humana é apresentado na filosofia do autor em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Vontade. Amor Erótico. Compaixão.
…………….13…………….
AUTOR(a): Yamille Fragoso de Medeiros Nunes (yamillefragoso@gmail.com)
TÍTULO: Filosofia e psicanálise: uma breve reflexão acerca da criação do artista nas perspectivas de Martin Heidegger
RESUMO: A presente reflexão visa traçar dois caminhos distintos, mas que de alguma maneira são capazes de se cruzar. O primeiro traçado pelo filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) na construção da questão do ser, tendo como foco principal o resgate à fenomenologia, com o retorno às origens do pensamento grego, base de sua filosofia. E o segundo pelo fundador da psicanálise Sigmund Freud (1856- 1939) na conferência de 6 de dezembro de 1907, intitulada Escritores Criativos e Devaneios, onde o austríaco faz alguns apontamentos sobre a literatura criativa.
PALAVRAS-CHAVE: Filosofia. Psicanálise. Criação. Literatura.
…………….14…………….
AUTOR(a): Wellington Faustino de Melo da Silva (wellingtonfms19@gmail.com)
TÍTULO: Eudaimonia e helenismo: considerações sobre a ética a partir do ceticismo pirrônico
RESUMO: Como se sabe, justificar racionalmente os juízos de valores humanos constitui, há muito, o interesse daqueles que se ocupam do conhecimento. O que efetivamente não isenta essa aspiração de suscitar uma série de discrepâncias no decurso da História da Filosofia Ocidental. A propósito, em se tratando do período helenístico (séc. IV a.C. — II d.C.), dentre essas controvérsias, destacou-se a exigência de possuir um entendimento categórico acerca da real natureza de nossas impressões, ou melhor, se aquilo que concebemos como verdadeiro é tal qual as coisas são efetivamente. Considerando que a busca por esse tipo de saber estava em consonância com um interesse comum na época: tecer um modelo prático para a vida (HADOT, 1999), certamente que muitos serão compelidos a questionar: como aprendê-la? Seria a percepção responsável por essa tarefa, ou somente através do intelecto poderíamos afirmar e pôr a prova os objetos percebidos por nós na realidade? Contudo, inquirições assim tornavam-se ainda mais veementes porque culminavam em profundas disparidades no âmbito prático. Não obstante seja sapiente afirmar que as prescrições éticas extraídas dos juízos filosóficos deveriam ser capazes de legitimar critérios práticos para a vida e, com isso, conduzir à felicidade (eudaimonia), uma vez existindo matéria de discórdia sobre determinado elemento teorético, alterava-se também os fundamentos éticos de cada uma dessas doutrinas. Entretanto, diferentemente das escolas remanescentes nesse período, em destaque: o Jardim (Epicuro), o Pórtico (Zenão) e o Liceu (Aristóteles), eis que surge a Sképsis (o Ceticismo). Os céticos, ou como se autodeclaravam “pirrônicos”, herdeiros das lições do sábio Pirro de Élis (séc. IV a.C.), contrapunham-se às orientações filosóficas dogmáticas. Os céticos rejeitavam, por sua vez, as crenças veiculadas por tais escolas. Assumindo uma postura essencialmente crítica quanto às aspirações desses filósofos, esses sábios seguiam o curso da vida sem dogmatizar, isto é, através da suspensão de juízo (epokhé), mantinham-se sem inclinações e em suspeita no que concerne aos juízos dogmáticos, que estavam repletos de crenças taxativas sobre as coisas. Em suma, conforme as resoluções céticas, pôr-se na vida consoante axiomas éticos não nos impelia à felicidade, mas intensificava nossas dores e perturbações. Dado que aquele que crê estar de posse de um bem em si mesmo, quando percebe não o desfrutar, vê-se diante de graves tormentos, a saída, portanto, não seria substituir dogmas por outros dogmas, mas tão somente suspendê-los. Somente por essa via, finalmente, talvez não tivéssemos que suportar duplos infortúnios: o de crer que padecemos por um mal em si, além de sermos afligidos pelos efeitos de um infortúnio inevitável. Porém, embora a perspectiva cética destoasse dos demais programas filosóficos da época, sendo acusados por muitos de estarem fadados à inação (apraxia) por não proferirem crenças nem proporem exercícios espirituais sistemáticos, bem como estoicos e epicuristas, os pirrônicos consideraram os fenômenos (??????????), para efeito de guiar-se no mundo e viver da melhor maneira possível, assim como outros. Portanto, nesta comunicação, a) objetiva-se, a priori, reconhecer o caráter das indagações pirrônicas acerca do dogmatismo ético das escolas helênicas. Feito isso, b) pretende-se analisar de que forma, após tal experiência dubidativa, o pirronismo reconhecerá nos fenômenos seu critério de ação. Com o fim desses tópicos e a título de conferir maiores esclarecimentos acerca dos temas aqui desenvolvidos, ter-se-á, de modo sucinto, um exame sobre a legitimidade da seguinte perquirição: como pode o cético viver seu ceticismo?
PALAVRAS-CHAVE: Pirronismo. Eudaimonia. Dogmatismo. Fenômeno.
…………….15…………….
AUTOR(a): Mateus da Silva Fernandes (mateus-fernandesmdsf@hotmail.com)
TÍTULO: RESSENTIMENTO: UMA ANÁLISE ONTOLÓGICA
RESUMO: A moral descrita na Genealogia da Moral nasce junto à relação senhor e escravo, de sorte que enquanto os nobres afirmaram de si suas próprias forças a partir do que eram, os servos por um não exterior consequente da dissimilute sociológica restaram ser o que os senhores não disseram de si. Assim sendo, aquilo afirmado pelos nobres fizeram corresponder à bondade, enquanto os servos restaram ser o oposto diante do mencionado pathos. Desse modo, os valores dos servos que não correspondiam à afirmação da vida, eram resultado da negação de suas forças e, consequentemente, do ressentimento, de sorte que a moralidade do ocidente a herdou como forma de valorar mediante a vitória dos escravos sobre os nobres, do reativo sobre o ativo. Com isso, pela moral escrava, o conceito bondade foi transferido para a transcendência, e aquela afirmação dos nobres, invertida de boa a ruim. A partir do ressentimento, o qual diz respeito ao sentimento de impotência diante da vida, o ressentido impõe sobre si mesmo sua força de expansão que outrora serviria como maneira de dominação, o que caracteriza a chamada má consciência. Assim sendo, sujeitando-se à depreciação da vida terrena frente a negação de suas forças, o homem idealiza a dualidade entre aparência e essência, mundo perfeito e efêmero, caracterizando o ideal de ascético, que se dá pela renúncia da imperfeição frente o sublime, superior. Essa moral que em sua gênese parte da dissimilitude hierárquica de caráter sociológico, com o tempo adquire racionalidade e ontologia própria. Fazendo com que as gerações posteriores não necessitem novamente inverter nem transferir valores, os quais já estão imbricados como conteúdo na formação do sujeito. A partir daí podemos identificar que o ressentimento, a má consciência e o ideal ascético não são meros eventos que aconteceram, mas composição íntima do arcabouço humano, científico e moral do mundo ocidente, os quais em suas devidas proporções. Portanto, isso que fora denunciado é resultado de um poder que a história detém, o qual é enrijecer estruturas culturais, morais e valorativas com o curso dos tempos. O caráter ontológico adquirido pelo ressentimento se dá porque antes de tudo fora constituído por uma diferença de caráter sociológico. Porém, é importante tomar nota que não é algo inerente ao sujeito. O homem não é um ser ressentido essencialmente falando, mas que é abarcado por uma racionalidade que configura a imanência enquanto ideia. Essa racionalidade é engendrada na própria identidade entre a dialética e o conteúdo, em que resulta na ultrapassagem imanente daquilo determinado pelo entendimento por meio de sua própria antinomia, caracterizando, pois, a saída do entendimento (Verstand) à razão (Vernunft), ou verdade especulativa.
PALAVRAS-CHAVE: Ressentimento. Pathos. Moral. Imanência. Racionalidade.