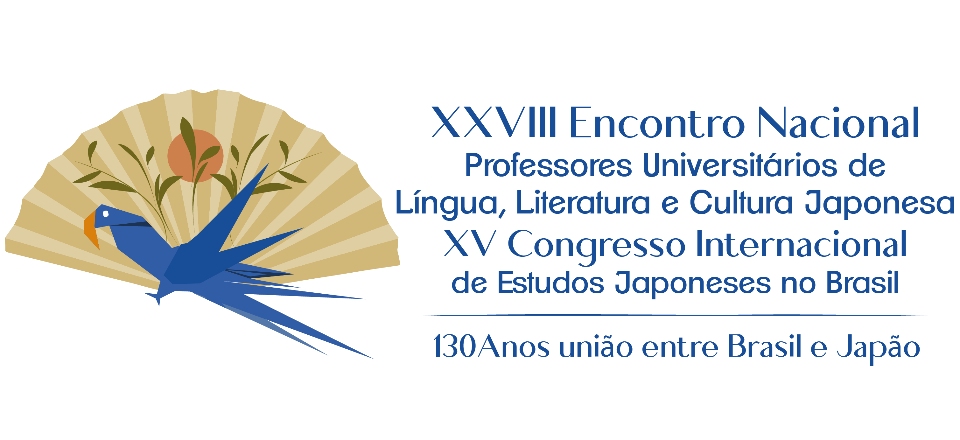Painel 2 - Identidade nipo-latina
Este trabalho aborda as complexas experiências identitárias de sujeitos de origem japonesa na América Latina, com foco no Brasil e no Peru, a partir de perspectivas intercultural, histórica, discursiva e psicanalítica. No Brasil, a imigração japonesa iniciou-se com um caráter temporário, voltado ao enriquecimento e retorno ao Japão. A fundação de associações comunitárias contribuiu para a preservação cultural e a construção de identidades baseadas na diferença cultural com a população local. No entanto, isso também reforçou estereótipos, tais como a “minoria modelo”, fomentou uma vivência ambígua de pertencimento e acirrou o discurso xenófobo durante a II Guerra Mundial. Ao migrarem para o Japão, muitos nipo-brasileiros enfrentam preconceitos e não são reconhecidos como japoneses, gerando crises identitárias por sentirem-se estrangeiros em ambos os países. A partir da psicologia intercultural, se propõe o modelo da abordagem intercultural psicodinâmica decolonial, para compreender os conflitos vividos por esses sujeitos entre mundos tão distintos. Já no Peru, a comunidade japonesa foi alvo de violência e xenofobia, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. O saque em Lima, em 1940, foi impulsionado por estereótipos raciais e econômicos disseminados pela mídia, que associavam o japonês à “ameaça amarela”. Essa representação foi construída por interesses políticos e econômicos e legitimada por discursos midiáticos orientados por uma lógica racial hierarquizante. Em comum, esses contextos revelam como o “ser japonês” na diáspora é atravessado por estigmas, expectativas contraditórias e conflitos identitários. Tais fenômenos exigem atenção de profissionais da saúde, educação e políticas públicas para evitar a patologização, preconceitos e exclusões sociais.
Entre o Brasil e o Japão - Pertencimento e estrangeiridade.
Mary Yoko Okamoto – UNESP/Assis
A história da imigração japonesa para o Brasil apresentou, inicialmente, um objetivo baseado numa permanência temporária em busca de enriquecimento rápido e retorno ao Japão. Devido a este fato, fundaram associações comunitárias, nas quais funcionavam escolas para a transmissão da cultura, tradição e idioma do país de origem, além de servirem como um espaço de pertencimento comunitário e compartilhado. A presença das associações foi fundamental para a constituição identitária das gerações, baseadas na cultura de origem e que concomitantemente, contribuiu para uma restrição nos contatos sociais mais amplos. Com isso, de acordo com a teoria psicanalítica, a constituição identitária das gerações se consolidou em torno da diferença cultural com os brasileiros, baseada em estereótipos tais como a minoria modelo e que compõe discussões raciais em relação à denominada população amarela no Brasil e que, historicamente foi permeada por preconceitos, inclusive legais, que impôs restrições às manifestações culturais e na entrada de migrantes japoneses no país durante o período da II Guerra Mundial. Assim, se no Brasil, a constituição identitária prevaleceu a partir de um pertencimento à cultura japonesa, ao migrarem ao Brasil, os nipo-brasileiros vivem uma ruptura nessa experiência identitária e do pertencimento, considerando que no Japão, são considerados estrangeiros, a despeito da origem em comum. Assim, não se sentem devidamente brasileiros no Brasil e no Japão, o sentimento de estrangeiridade fica evidente, o que causa uma nova crise identitária, e assim, os mesmos comportamentos atribuídos aos brasileiros e que os diferenciava dos nikkeis, no Japão são atribuídos aos nipo-brasileiros no contexto de vida japonês, sendo responsáveis por experiências ambíguas e o sofrimento por não se sentirem pertencentes a nenhum dos países.
A constante inquietude de ser entre Brasil-Japão - Uma perspectiva intercultural psicodinâmica decolonial
Sylvia Duarte Dantas - UNIFESP
Esta apresentação baseia-se em nossa experiência em docência, supervisão, consultoria realizada para empresa federal brasileira com filial no Japão e EUA e pesquisas de intervenção que realizamos em duas universidades brasileiras, USP e UNIFESP em que oferecemos acolhimento psicossocial intercultural para imigrantes, brasileiros descendentes de imigrantes e emigrantes. Dentre esses, muitos nikkeis retornados do Japão. Nos pautamos na abordagem da psicologia intercultural a partir da qual desenvolvemos o modelo da abordagem intercultural psicodinâmica decolonial. Através desses trabalhos notamos a emergência da questão identitária para aqueles que vivem entre dois mundos culturais tão distintos quanto o brasileiro e o japonês. Na psicologia intercultural, os fenômenos psicossociais são percebidos de forma ampla, dinâmica e flexível e o desenvolvimento humano e suas manifestações são vistos como decorrentes da relação dialética entre o sujeito e os contextos culturais e sociopolíticos. Após 130 anos da imigração japonesa para o Brasil, os nipo-brasileiros são ainda comumente referidos aqui como “japoneses” ou “japas”. No Japão, os nikkeis sofrem preconceito ao não serem considerados japoneses e sim vistos como estrangeiros. Tais atravessamentos contextuais e diferenças culturais entre ambas as sociedades permeiam as relações familiares, pessoais e a formação dos novos cidadãos nipo-brasileiros. Uma vivência atravessada por diversos fatores da história pessoal e da história social. A compreensão dessa importante questão subjetiva que se coloca é de fundamental importância para profissionais da área da saúde e da educação a fim de prevenirmos estereotipias, preconceitos ou diagnósticos psicopatológicos. Tais considerações serão aqui desenvolvidas e ilustradas através de casos assim como da experiência pessoal da pesquisadora no Japão.
El saqueo anti-japonés de Lima de 1940 - La otredad, los rumores y los medios
Alejandro Valdez Tamashiro - Pontificia Universidad Católica del Perú
El 13 de mayo de 1940 ocurrió en Lima un saqueo dirigido en contra de la población japonesa, producto de una manifestación en la que participaron estudiantes, obreros, mujeres y toda clase de personas. Este no respondió sólo a discursos políticos, sino también a otros aspectos socio-económicos. Durante la década anterior, circularon una serie de rumores en torno a una figura racializada y estereotipada del “japonés”, como un individuo imperialista, monopolista, injusto: una amenaza para la sociedad. Estos discursos respondieron a la posición socio-económica de la comunidad japonesa en el Perú. Debido al éxito obtenido, incluso sin la necesidad de asimilarse a la cultura y valores locales, dicha condición fue percibida negativamente a diferencia de otros migrantes. Además, la relación entre miembros de la comunidad y el Imperio japonés despertó sospechas en torno a una posible invasión del Perú. Esto responde a un contexto de guerra mundial y sino-japonesa, en donde se introdujeron discursos con influencia norteamericana en torno al interés japonés de construir una hegemonía continental.
En ese sentido, a partir de la construcción del “otro” japonés como un sujeto sublimado y orientalizado, confluyeron una serie de estereotipos y rumores sustentados en una jerarquización racial basada en la “decencia” que relacionó al “japonés” con la “amenaza amarilla” y, por tanto, lo transformó en amenaza al orden natural de la sociedad peruana. Esta elaboración se realizó a través de los medios impresos, tanto diarios como panfletos, que por medio de la metodología del Análisis Crítico del Discurso se observa su función como herramientas para difundir y normalizar una retórica anti-japonesa, antiimperialista y xenófoba en la opinión pública. Ello respondió tanto al interés por parte del Estado en alinearse con Estados Unidos, como a la confluencia de objetivos políticos y económicos por algunos partidos políticos y miembros de la prensa.